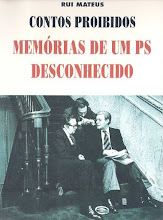"Aqui vai o artigo que escrevi sobre a crise - «O TRIUNFO DOS AGIOTAS - UMA HISTÓRIA DE GANGSTERS» - que o jornal «i» me tinha prometido publicar, em princípio, ontem (2ª feira), mas afinal não publicou nem ontem nem hoje - nem me deu, até agora, qualquer explicação. Se tiverem a paciência de o ler, perceberão que era agora, com a chegada do FMI a Portugal, que fazia sentido publicar o artigo. Lamento ter andado a chatear alguns amigos, via telemóvel, incitando-os a comprarem o «i» - afinal em vão. Estou envergonhado.
Abraços do ALFREDO BARROSO"
E agora o artigo:
O TRIUNFO DOS AGIOTAS- UMA HISTÓRIA DE GANGSTERS
POR ALFREDO BARROSO
1. «DUAS NAÇÕES».
POR ALFREDO BARROSO
1. «DUAS NAÇÕES».
Benjamin Disraeli (1804-1881), aliás Lord Beaconsfield (desde 1876), foi um dos políticos ingleses mais notáveis do século XIX. Conservador e reformador com preocupações sociais, chegou a advogar uma aliança entre a aristocracia e a classe trabalhadora, sugerindo que os aristocratas deviam usar o seu poder para ajudar a proteger os mais pobres. Além de ter sido Primeiro Ministro da Rainha Vitória (e do Império Britânico) durante a década de 1870, foi um escritor popular que expressou em alguns dos seus romances as suas preocupações em relação à pobreza e à injustiça do sistema parlamentar, que ele ajudou a reformar com o apoio do Partido Liberal (já chefiado por William Gladstone, que viria a suceder-lhe como Primeiro Ministro). Num dos seus romances mais conhecidos, Sybil (1844), Disraeli descreve uma Inglaterra dividida em «duas nações», a dos ricos e a dos pobres, entre as quais «não há nem relacionamento nem simpatia». Cenário que se repetiria no século XX, com algumas adaptações, mas a mesma crueldade, durante os Governos de Margaret Thatcher, e que ameaça repetir-se no século XXI com o Governo de David Cameron.
Em sondagem recentemente publicada por vários jornais europeus, constata-se que aumentou significativamente a desconfiança dos cidadãos europeus na capacidade dos Governos e respectivas oposições para resolver os problemas económicos. Cresce a sensação de que os políticos nacionais já não têm autonomia para tomar as decisões indispensáveis para combater eficazmente a crise nos seus países, tal como a noção de que esses políticos foram substituídos pelos novos poderes fácticos: mercados e especuladores financeiros, bancos e agências de rating, tecnocratas e políticos escolhidos em instâncias superiores, que tomam decisões além-fronteiras encerrados em «torres de marfim» (BCE, FED, Wall Street, City, Bruxelas, etc.).
2. NEOLIBERALISMO.
Não se trata de uma fantasia imaginada por esquerdistas. Como nos explica David Harvey, no seu livro O enigma do capital e as crises do capitalismo (Editorial Bizâncio, 2011), o termo neoliberalismo «refere-se a um projecto de classe que foi tomando forma durante a crise da década de 1970». «Mascarado por muita retórica sobre liberdade individual, autonomia, responsabilidade pessoal e as virtudes da privatização, do mercado livre e do comércio livre, o termo neoliberalismo legitimou políticas draconianas concebidas para restaurar e consolidar o poder da classe capitalista. Projecto que tem sido bem sucedido, a julgar pela incrível concentração de riqueza e poder que se verifica em todos os países que enveredaram pela via neoliberal. E não há provas de que esteja morto» – ao contrário do que pensam os que não se cansam de falar de um «novo paradigma», mas não conseguem sequer defini-lo ou explicá-lo.
Num texto publicado em 2000, A mão invisível dos poderosos, Pierre Bourdieu dizia que «a visão neoliberal é difícil de combater com eficácia porque, sendo conservadora, apresenta-se como progressista e pode remeter para o lado do conservadorismo, e até do arcaísmo, todas as críticas que lhe são dirigidas, nomeadamente aquelas que tomam por alvo a destruição das conquistas sociais do passado». Todavia, é um facto que «o neoliberalismo visa destruir o Estado social, a mão esquerda do Estado (que é fácil mostrar ser o melhor garante dos interesses dos dominados, desprovidos de recursos culturais e económicos, mulheres, etnias estigmatizadas, etc.)». Para os que praticam esta doutrina, é a Economia que está «no centro da vida» – e não o Homem. E acham que o mercado não se dá bem com a res publica.
É verdade o que diz Jean-Claude Trichet, presidente do BCE: «Os bancos teriam todos desaparecido se nós não os tivéssemos salvo». Mas o paradoxo é evidente: os Estados endividaram-se para evitar o colapso dos bancos, mas agora são os bancos que impõem aos Governos a adopção de políticas de austeridade brutais, que podem conduzir ao colapso dos Povos e dos Estados. Para tanto, socorrem-se das já famosas agências de rating, que «espancam» os Governos até estes atirarem «a toalha ao chão».
3. «GANGSTERISMO».
Parece-me ser a expressão mais adequada para descrever a actividade das agências privadas de qualificação de riscos, mais conhecidas como agências de rating. Trabalham para quem lhes paga, sobretudo os bancos, proporcionando aos especuladores financeiros, e aos investidores oportunistas de alto calibre, juros sempre mais elevados para os seus empréstimos. Para tanto, «sovam» os Governos de vários países em sérias dificuldades económicas e financeiras, até eles não aguentarem mais «espancamentos». E se continuarem a resistir, apontam-lhes uma «pistola» à cabeça e ameaçam: «Ou cedes ou morres de bancarrota»! As agências de rating são, assim, uma espécie de gangsters ao serviço da agiotagem.
O actual Presidente da República, Cavaco Silva, gostaria de impor um silêncio patriótico aos políticos e comentadores (infelizmente, poucos!) que criticam as agências de rating. Todavia, abundam os casos em que elas contribuíram para agravar as crises. Vejamos dois exemplos recentes. Desde logo, o caso do magnata Bernard Maddoff, sem dúvida um dos maiores vigaristas do século, que exibia, no cartão de apresentação da sua entidade financeira, um rutilante triplo A (AAA), que é a classificação positiva máxima atribuída pelas agências de rating. Foi parar à cadeia.
Depois, o caso das famosas hipotecas subprime e dos tão sofisticados como «tóxicos» produtos financeiros que ajudaram a fabricar, que incluíam nomeadamente títulos de dívida (obrigações) do Lehman Brothers. Todos eles beneficiaram também de um rutilante triplo A. Mas foi precisamente a falência do Lehman Brothers que desencadeou a gigantesca crise financeira de 2008, nos EUA, que depois alastrou à Europa, e cujas consequências ainda hoje estamos a sofrer. Vale a pena lembrar aqui uma passagem do relatório final da Comissão de Investigação do Congresso dos EUA que foi constituída para apurar as causas da grave crise financeira. Reza assim: «Concluímos que os erros cometidos pelas agências de qualificação de riscos (agências de rating) foram engrenagens essenciais na maquinaria de destruição financeira. As três agências foram ferramentas chave do caos financeiro. Os valores relacionados com hipotecas, no coração da crise, não se teriam vendido sem o selo de aprovação das agências. Os investidores confiaram nelas, na maioria dos casos cegamente. (…) Esta crise não teria podido ocorrer sem as agências de rating. As suas qualificações (máximas) ajudaram o mercado a disparar, e quando tiveram de baixá-las (até ao nível de «lixo»), em 2007 e 2008, causaram enormes estragos».
O relatório salienta que a Moody’s - que em 2006 foi uma autêntica fábrica de atribuição de classificações máximas a títulos hipotecários - deve ser considerada como um case study sobre as más práticas que provocaram a crise. De facto, entre os anos 2000 e 2007, a Moody’s considerou como de máxima solvência (AAA) nada menos do que 45.000 valores relativos a hipotecas. O relatório refere a existência de modelos de cálculo desfasados, as pressões exercidas por empresas financeiras e a ânsia de ganhar quota de mercado que se sobrepôs à qualidade das qualificações atribuídas.
Mas, apesar destas conclusões devastadoras para a credibilidade das agências de rating, estas não hesitaram em aumentar os salários e prémios dos seus executivos, já depois de conhecido o relatório. O caso da Moody’s foi o mais escandaloso. O seu presidente executivo, Raymond Mc Daniel, recebeu em 2010 um aumento de 69 % do seu salário anual, que trepou até aos 9,15 milhões de dólares (cerca de 6,4 milhões de euros). Um motivo invocado, entre outros, foi o facto de ter ajudado a «restaurar a confiança (!) nas qualificações atribuídas pela Moody’s Investors Service, ao elevar o conhecimento sobre o papel e a função dessas qualificações».Raymond Mc Daniel foi chamado a testemunhar perante a Comissão de Inquérito acompanhado pelo principal accionista da Moody’s, Warren Buffet. Mas este lavou as mãos, como Pilatos, declarando que não fazia a menor ideia sobre a gestão da agência, e que nunca lá tinha posto os pés. Explicou, no entanto, que tinha investido na empresa porque o negócio das agências de rating era «um duopólio natural, o que lhe dava um incrível poder sobre os preços»! Na transcrição do depoimento de Raymond Mc Daniel perante a Comissão de Inquérito do Congresso também surge uma declaração surpreendente. Disse ele: «Os investidores não deveriam confiar nas qualificações (das agências) para comprar, vender ou manter valores»! Não foi ingenuidade. Foi insolência e hipocrisia. Infelizmente, em relação a Portugal, ninguém seguiu o conselho deste senhor Raimundo…
4. PORTUGAL.
Cumpriu-se o fado. O destino marca a hora. Como na famosa canção de Tony de Matos: «Se o destino nos condena / Não vale a pena / Lutarmos mais». Portugal foi «sovado» pelas agências de rating até à exaustão. Estava marcado para «morrer de bancarrota» se não cedesse às exigências do capital financeiro. No dia 5 de Abril de 2011, o «Jornal de Negócios» noticiava: «Bancos cortam crédito ao Estado». E explicava: «Os banqueiros reuniram-se ontem no Banco de Portugal. Não vão financiar mais o Estado. Querem um pedido de ajuda intercalar de 15 mil milhões – e já! O Governo tem de pedir e o PSD e o PP têm de subscrever». «E já!». Perceberam? Foi assim, sem qualquer pudor, que o ultimato foi anunciado, que a «pistola» foi apontada à cabeça da vítima que já estava na fila de espera para ser «garrotada» pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Cerca de 24 horas depois, já tínhamos direito a ouvir o sr. Olli Rehn (criatura finlandesa em quem não votámos e que fala inglês aos soluços) a explicar à Europa e ao Mundo o que é bom para Portugal - e não necessariamente para a grande maioria os portugueses. Olli Rehn é comissário europeu para os Assuntos Económicos e Monetários. Trabalha, portanto, sob a direcção (!?) do sr. Durão Barroso, ex-presidente do PSD e ex-primeiro-ministro, que foi «sovado» pelo PS (de Ferro Rodrigues) nas eleições europeias de 2004 e que, a seguir, abandonou o Governo que chefiava «com o rabo entre as pernas», pouco depois de ter prometido ao país que não o faria, para ir ocupar em Bruxelas o cargo de presidente da Comissão Europeia, que lhe foi oferecido pela direita.
Como escreveu Pierre Bourdieu há onze anos: «Temos uma Europa dos bancos e dos banqueiros, uma Europa das empresas e dos patrões, uma Europa das polícias e dos polícias, teremos em breve uma Europa das forças armadas e dos militares» (esta está quase!). Infelizmente, ainda não existe um movimento social europeu unificado, capaz de reunir diferentes movimentos, sindicatos e associações de diferentes naturezas, e capaz de resistir eficazmente às forças dominantes, a essa «Europa que se constrói em torno dos poderes e dos poderosos e que é tão pouco europeia».
Como já se noticia, a «ajuda» financeira do FEEF e do FMI servirá, essencialmente, para Portugal «pagar o que deve aos credores, sobretudo bancos estrangeiros que, ao longo de décadas, foram fornecendo fundos aos bancos nacionais e que estes depois canalizavam para a compra de casas, carros e créditos às empresas» («DN», 08/04/2011). Para além de cortes em salários, pensões, subsídios de desemprego e outras prestações sociais, fala-se em «reformas mais profundas do mercado de trabalho, menor protecção no emprego, maior abertura da Educação e da Saúde aos privados, subida dos impostos». (O dr. Passos Coelho deve estar radiante!). Também se diz que «mal as condições melhorem, o Estado deve começar a sair (privatizar) das empresas de transportes. Casos da ANA, TAP, CP, Refer, Carris, Metro de Lisboa e do Porto». Não haverá mais nada para privatizar? Claro que há! Um Estado bem desmantelado dá para enriquecer vários oligarcas.
Observação final. Várias são as vozes que afirmam que o FMI não é nenhum papão e não mete medo a ninguém, porque já cá esteve no século passado e tudo correu às mil maravilhas. É quase verdade, mas esquecem-se de um pequeno pormenor que faz toda a diferença: é que, quando o país sair exausto e exangue dos próximos anos de brutal austeridade, não haverá mais uma CEE à nossa espera para «inundar» Portugal com as «catadupas» de fundos comunitários que fizeram a felicidade do cavaquismo!
Lisboa, 9 de Abril de 2011 ALFREDO BARROSO
Entenderam? E este senhor não pode ser apelidado de extremista, de comunista, mas tão só de colunista. E dos bons! Não publicaram? Pois não! Por aí se vê a confiança que podemos depositar nos meios de comunicação social...